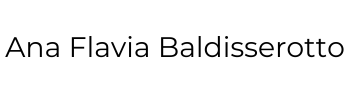Acho que nosso primeiro encontro foi pelo cheiro de perfume. Um cheiro meio doce, talvez de alguma rosa. Suave, mas um pouco mais intenso que o de uma flor natural. Às vezes esse perfume fazia aparição na nossa casa de infância e adolescência. Não era incenso, não era difusor de aromas, não era talco, não era colônia. Eu procurava de onde e não encontrava. Era só um riacho de ar e aquele aroma, que chegava nos momentos mais banais, mesmo quando janelas e portas estavam fechadas, quando não havia ninguém perfumado por perto.
Na maior parte das vezes eu não comentava com ninguém, e ninguém mais parecia notar nada estranho, ou pelo menos, ninguém falava do jardim aéreo que se alçava até o décimo primeiro andar do prédio em que morávamos, bem no centro da cidade. Assim como vinha, o perfume ia embora. E a vida seguia distraída do mistério.
Um dia eu estava cozinhando quando, meio do cheiro de peixe, em uma faixa paralela do olfato, o perfume se impôs.
Foi a primeira vez que perguntei pra minha mãe:
- Tu sentiu esse perfume?
Ela sorriu um sim sem palavra.
- É do teu hidratante ?
- Não, é ela. É a minha avó. Ela às vezes me visita.
Dona Maria Cândida, avó paterna da minha mãe, foi entrando em mim assim, aos poucos e pelo nariz.
A única coisa que eu sabia dela antes dessas visitas elegantes, era que a avó da minha mãe botava as cartas, que minha mãe tinha herdado o baralho dela, e que aprendeu a ler o oráculo testemunhando as sessões domésticas em que ela tirava a sorte para as vizinhas.
Fui catando os pedaços de histórias que chegavam nas nossas conversas: o marido sumiu no Pantanal em uma suposta disputa com outro homem, nunca mais voltou. Ele era meio ìndigena, meio português. Ninguém sabe o que aconteceu, nunca encontraram o corpo. Ela ficou morando com a sogra, no interior, cuidando das três crianças pequenas e dos caprichos da velha, que pelo jeito era autoritária e difícil. Nunca foi decretada viúva. Era bem jovem quando esse sumiço aconteceu. Se apaixonou por um homem casado lá do lugar onde morava. Não se sabe bem como, acabou escapando com a prole a tiracolo e veio morar na capital. Costurava muito bem. Criou os três filhos fazendo serviços de linha e agulha para fora. Teve vários amantes, nunca se casou.
Era rosa-cruz, meditava todos os dias no mesmo horário em rede com uma fraternidade mundial de místicos em torno de uma vela e de um copo de água. Essa hora era sagrada. E não tinha neta, nem filho, nem amante, nem cliente, nem vizinha desconsolada que a invadisse aquele templo íntimo das seis da tarde.
“Era pobre, mas era fina”, disse a minha mãe quando me presenteou com o bule de chá de louça que herdou dela. E era assim que minha mãe sabia que era ela no perfume.
Até pouco tempo atrás, Maria Cândida era, para mim, esse nome bonito, o bule de louça, e essa constelação de cacos de memórias de segunda mão.
Mas isso começou a mudar durante a pandemia.
Naqueles anos de confinamento, passei e dedicar todas as horas possíveis às rondas no quintal. Acho que a avó de minha mãe, que gostava de flor, se aproveitou da minha tonteira diária aos pés da laranjeira para fazer seu pouso.
E quando o fenômeno aconteceu, começamos a escrever juntas.
( Ana Flávia Baldisserotto, setembro de 2024)